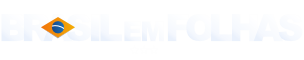Por décadas, acreditou-se que o autismo era resultado de fatores ambientais, como a chamada “teoria da mãe-geladeira”, hoje considerada equivocada. A partir dos anos 1970, estudos com gêmeos revelaram um forte componente genético, mostrando que a probabilidade de ambos os gêmeos idênticos serem autistas pode ultrapassar 90%. Desde então, avanços na genética identificaram mutações em mais de 100 genes, muitas delas associadas a deficiências graves no neurodesenvolvimento, como atrasos motores e intelectuais. Essas descobertas permitiram maior compreensão sobre como variações genéticas, tanto herdadas quanto espontâneas, influenciam o espectro autista.
Além das mutações raras e de grande impacto, pesquisas recentes destacam o papel de centenas de variantes genéticas comuns, que, em conjunto, contribuem para traços autistas. Essas variações estão presentes mesmo em pessoas neurotípicas, mas sua combinação pode levar a diferenças significativas no desenvolvimento cerebral. Estudos como o “Reading the Mind in the Eyes” ajudaram a correlacionar essas variantes com características como dificuldade em reconhecer emoções ou habilidades elevadas em áreas específicas, como matemática e arte. No entanto, a complexidade do autismo ainda desafia os cientistas, especialmente em relação às diferenças entre gêneros e à diversidade dentro do espectro.
Apesar dos avanços, a pesquisa genética sobre o autismo gera debates éticos, principalmente sobre o risco de testes pré-natais e possíveis usos eugênicos. Enquanto alguns defendem intervenções para casos graves, outros veem o autismo como parte da identidade e da neurodiversidade. Projetos como o Autism Sequencing Consortium buscam tratamentos para condições associadas, como epilepsia e distúrbios gastrointestinais, sem perder de vista a necessidade de inclusão e redução do estigma. O desafio, segundo especialistas, é equilibrar a busca por soluções médicas com o respeito à diversidade humana.