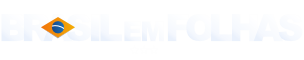No início do Brasil independente, a composição do legislativo era marcada por requisitos eleitorais que hoje pareceriam impensáveis. Em 1823, para ser eleito para a primeira Assembleia Constituinte, além de cumprir condições como a nacionalidade brasileira e a filiação a um partido, o candidato precisava ter uma quantidade específica de mandioca plantada. A farinha de mandioca, alimento básico da época, tornou-se símbolo de poder político, refletindo a dominação da elite agrária, que moldava tanto a economia quanto a política brasileira.
O sistema eleitoral de então era profundamente restritivo, limitando o direito de votar e ser votado apenas aos homens brancos e detentores de patrimônio. A condição da mandioca, junto a uma renda anual mínima e um determinado tamanho de terra, representava uma forma de circunscrever a participação política à elite agrária, ao mesmo tempo que excluía camponeses, trabalhadores, mulheres e analfabetos da equação política. Esse modelo reflete uma sociedade em que a economia agrícola era a principal força, diferente de outras nações que já contavam com elites industriais, como a Inglaterra.
A Carta da Mandioca, como ficou conhecida a primeira proposta de constituição do Brasil, não chegou a ser adotada, sendo rejeitada por Dom Pedro I, que, com apoio militar, dissolveu a assembleia e impôs uma constituição própria. A tentativa de limitar o poder imperial foi um reflexo das tensões políticas do período, mas a estrutura política da época ainda perpetuou a participação da elite agrária no controle do país. O legado desse sistema eleitoral duraria por muitos anos, mantendo a capacidade de eleição restrita a uma parcela limitada da população.